Desemprego em Mínima Histórica: Por Que os Brasileiros Não Sentem a Melhora na Economia
Desemprego em Mínima Histórica: Por Que os Brasileiros Não Sentem a Melhora na Economia
O Brasil alcançou em agosto de 2025 a menor taxa de desemprego de sua história: 5,6% da população economicamente ativa, segundo a PNAD Contínua do IBGE. Com 102,4 milhões de pessoas ocupadas e apenas 6,1 milhões de desocupados, o país tecnicamente atingiu o chamado pleno emprego, situação que economistas consideram ideal onde praticamente todos que querem trabalhar conseguem encontrar ocupação. Paradoxalmente, este cenário estatisticamente excepcional não se traduz em percepção de prosperidade pela maior parte da população. O abismo entre números oficiais e realidade vivida revela contradições estruturais do mercado de trabalho brasileiro que estatísticas agregadas mascaram: alta informalidade, precarização das ocupações, baixos salários e desigualdades persistentes que fazem com que pleno emprego não signifique, necessariamente, emprego pleno.
Os Números Recorde do Mercado de Trabalho
A trajetória descendente da taxa de desemprego ao longo de 2025 impressiona quando comparada a períodos recentes. O primeiro trimestre registrou 7,0%, ainda assim o menor patamar para o período desde 2014. No segundo trimestre, a taxa despencou para 5,8%, estabelecendo novo recorde histórico. Em agosto, o indicador recuou para 5,6%, repetindo a mínima absoluta da série iniciada pelo IBGE em 2012.
Este desempenho contrasta dramaticamente com os piores momentos da crise econômica. Durante a pandemia de COVID-19, o desemprego atingiu 14,9% nos trimestres encerrados em setembro de 2020 e março de 2021, marcas que pareciam impossíveis de serem superadas rapidamente. Em apenas quatro anos, o país reduziu a desocupação em 9,3 pontos percentuais, movimento raramente observado em economias de grande porte.
O nível de ocupação atingiu 58,8% no segundo trimestre de 2025, igualando o recorde histórico. Isto significa que 58,8% de toda a população em idade de trabalhar está efetivamente empregada, proporção superior à observada em qualquer momento desde 2012.
O número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado estabeleceu novo marco em 39 milhões de pessoas no segundo trimestre, sinalizando formalização crescente do mercado de trabalho. O rendimento médio mensal alcançou 3.477 reais, valor recorde quando considerados os efeitos da inflação. A massa salarial, que representa o total de remunerações pagas a todos os trabalhadores, atingiu 351,2 bilhões de reais mensais, também o maior patamar da história.
Estes indicadores conjuntamente configuram cenário que economistas caracterizam como pleno emprego. Teoricamente, quando desemprego cai a níveis tão reduzidos, empregadores precisam competir por trabalhadores oferecendo salários crescentes, fenômeno que pode gerar pressões inflacionárias mas beneficia assalariados. A questão central reside em compreender por que esta dinâmica não se manifesta plenamente na economia brasileira.
O Que as Estatísticas Não Revelam
A metodologia da PNAD Contínua, embora tecnicamente robusta e alinhada com padrões internacionais, captura realidades que não necessariamente refletem qualidade de vida ou segurança econômica dos trabalhadores. Para ser considerada ocupada, basta que a pessoa tenha exercido alguma atividade remunerada, ainda que por apenas uma hora, na semana de referência da pesquisa.
Esta definição ampla significa que um trabalhador por aplicativo que realizou apenas algumas entregas na semana, um profissional autônomo que vendeu um único produto, ou um empregado em trabalho intermitente que foi chamado por um dia são todos contabilizados como ocupados, independente da renda gerada ou estabilidade proporcionada por estas ocupações.
A Face Oculta da Informalidade
Embora a taxa de informalidade tenha recuado para 37,8% no segundo trimestre de 2025, a menor desde o início da pandemia, este patamar ainda representa quase 40 milhões de brasileiros trabalhando sem carteira assinada, sem CNPJ ou como trabalhadores familiares não remunerados. Estes indivíduos não possuem acesso a direitos trabalhistas fundamentais como férias remuneradas, décimo terceiro salário, seguro-desemprego ou Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
A informalidade concentra-se em regiões mais pobres e entre populações vulneráveis. Estados como Maranhão apresentam taxa de 58,4%, Pará 57,5% e Piauí 54,6%. Enquanto isso, Santa Catarina registra apenas 25,3%, Distrito Federal 28,2% e São Paulo 29,3%, evidenciando desigualdades regionais profundas na qualidade do emprego gerado.
Como resume o economista Pedro Faria, doutor em história pela Universidade de Cambridge: “Pleno emprego não é emprego pleno. Não é porque todos os trabalhadores estão empregados que todos estão vivendo a plenitude do trabalho.”
Trabalhadores informais enfrentam vulnerabilidades múltiplas. Dificuldades em acessar crédito formal limitam capacidade de consumo e investimento. Ausência de contribuição previdenciária compromete segurança na velhice. Instabilidade de renda torna planejamento financeiro praticamente impossível. Em momentos de crise econômica ou problemas de saúde, estes trabalhadores carecem de redes de proteção social, frequentemente recorrendo a endividamento ou apoio familiar para atravessar dificuldades.
Subocupação: O Desemprego Disfarçado
A taxa de subutilização da força de trabalho, que inclui desempregados, subocupados por insuficiência de horas e desalentados, atingiu 14,4% no segundo trimestre. Isto significa que para cada 100 brasileiros economicamente ativos, 14 ou estão desempregados, ou trabalham menos horas do que gostariam, ou desistiram de procurar emprego por acreditarem que não conseguirão.
A Precarização Estrutural do Trabalho
Além da informalidade estatística, o mercado de trabalho brasileiro experimenta precarização crescente mesmo entre ocupações formalmente registradas. O trabalho intermitente, modalidade criada pela reforma trabalhista de 2017, passou de 85 mil contratos em 2019 para mais de 350 mil em 2024, segundo dados do CAGED. Neste regime, trabalhadores são convocados apenas quando há demanda, sem garantia de renda mensal mínima.
A economia de plataformas digitais expandiu-se dramaticamente, especialmente em áreas urbanas. Motoristas de aplicativos, entregadores de comida e trabalhadores sob demanda aparentemente autônomos frequentemente enfrentam jornadas longas, ausência de benefícios trabalhistas e remunerações variáveis que dificultam planejamento financeiro. Como observa o sociólogo Ricardo Antunes, a uberização do trabalho constitui nova forma de exploração onde aparente autonomia mascara intensificação da precariedade laboral.
Setores de Baixa Produtividade
A composição setorial do emprego revela concentração em atividades de baixa produtividade e remuneração. O setor de serviços, responsável por grande parte das vagas criadas, frequentemente oferece salários inferiores aos da indústria. Enquanto o setor industrial perdeu participação no PIB e no emprego total nas últimas décadas, serviços absorveram mão de obra em ocupações como comércio varejista, serviços domésticos e atividades de baixa qualificação.
O setor agropecuário perdeu 745 mil trabalhadores entre 2019 e 2025, reduzindo participação no emprego total de 9,2% para 7,6%. Esta saída de trabalhadores rurais, combinada com mecanização crescente e concentração fundiária, transfere população para cidades onde frequentemente encontram apenas ocupações precárias no setor informal de serviços.
Economistas defendem que a reindustrialização é fundamental para absorver mão de obra em setores de maior produtividade. A indústria historicamente oferece empregos de melhor qualidade, com salários superiores e maior estabilidade, absorvendo trabalhadores com nível médio de escolaridade.
Desigualdades Persistentes
Os indicadores agregados de emprego mascaram disparidades significativas entre diferentes grupos populacionais. A taxa de desocupação para mulheres alcançou 6,9% no segundo trimestre, enquanto para homens ficou em 4,8%. Esta diferença de 2,1 pontos percentuais reflete não apenas discriminação no mercado de trabalho mas também sobrecarga de responsabilidades de cuidado que recaem desproporcionalmente sobre mulheres, limitando disponibilidade para buscar emprego ou aceitar jornadas extensas.
O recorte racial evidencia desigualdades ainda mais profundas. Trabalhadores brancos apresentaram taxa de desocupação de 4,8%, significativamente inferior à de trabalhadores pretos com 7,0% e pardos com 6,4%. Estas diferenças persistem mesmo quando controladas por nível educacional, indicando discriminação estrutural no acesso a oportunidades de trabalho de qualidade.
Educação e Mercado de Trabalho
A escolaridade exerce influência determinante sobre oportunidades laborais e remuneração. Pessoas com ensino médio incompleto enfrentaram taxa de desocupação de 9,4% no segundo trimestre, três vezes superior aos 3,2% observados entre aqueles com ensino superior completo. Esta disparidade revela barreiras significativas enfrentadas por populações menos escolarizadas em mercado crescentemente exigente quanto a qualificações formais.
Entretanto, mesmo educação superior não garante inserção laboral de qualidade. Graduados frequentemente aceitam ocupações subqualificadas diante de escassez de oportunidades em suas áreas de formação, fenômeno que desperdiça investimentos em capital humano e frustra expectativas de mobilidade social através da educação.
Rendimentos e Poder de Compra
- O rendimento médio de 3.477 reais, embora recorde em termos reais, ainda é insuficiente para manutenção de padrão de vida digno em grandes centros urbanos onde custo de vida é elevado.
- Cerca de 76,4% dos reajustes salariais negociados em julho de 2025 ficaram acima do INPC acumulado, mas muitos trabalhadores, especialmente informais, não se beneficiam de negociações coletivas.
- A inflação de alimentos e serviços essenciais corrói poder de compra de famílias de baixa renda mais intensamente que índices agregados sugerem, pois estas gastam proporção maior de renda em itens básicos.
- Endividamento das famílias permanece elevado, com parcela significativa da renda comprometida com pagamento de dívidas, limitando capacidade de consumo mesmo com emprego formal.
Por Que a Economia Não Reflete o Pleno Emprego
A desconexão entre baixo desemprego e percepção de dificuldades econômicas pela população decorre de múltiplos fatores estruturais. Primeiramente, a qualidade dos empregos criados é inferior à de períodos anteriores de baixo desemprego. Na década de 2000, quando desemprego também esteve em patamares reduzidos, maior proporção das ocupações era industrial e formal, oferecendo salários superiores e estabilidade.
Em segundo lugar, o custo de vida aumentou significativamente, especialmente em itens essenciais como moradia, alimentação e transporte. Embora salários médios tenham crescido em termos reais, este crescimento frequentemente não acompanha elevação de custos específicos que pesam no orçamento de famílias de renda média e baixa.
Juros Altos e Crédito Restrito
A Selic de 15% ao ano, estabelecida pelo Banco Central para conter inflação, encarece crédito e desestimula consumo de bens duráveis. Mesmo famílias com emprego estável enfrentam dificuldades para financiar aquisição de imóveis, veículos ou realizar investimentos em educação e saúde devido a taxas de juros proibitivas em financiamentos.
Este ambiente de juros elevados contrasta com períodos anteriores de baixo desemprego quando política monetária era expansionista, facilitando acesso a crédito e impulsionando consumo. O paradoxo atual reside em ter mercado de trabalho aquecido coexistindo com política monetária restritiva, combinação incomum que limita transmissão de ganhos de emprego para crescimento econômico mais amplo.
Expectativas e Incertezas
Incertezas fiscais e políticas afetam confiança de consumidores e empresários, desestimulando consumo e investimentos mesmo em ambiente de baixo desemprego. Preocupações com sustentabilidade da dívida pública, trajetória da inflação e possibilidade de choques econômicos fazem com que famílias priorizem poupança preventiva em detrimento de consumo, moderando dinamismo econômico.
Além disso, memória recente de crises econômicas severas, incluindo recessão de 2015-2016 e choque da pandemia, mantém população cautelosa quanto a assumir compromissos financeiros de longo prazo, mesmo diante de oportunidades de emprego mais abundantes.
Quer Entender Melhor a Economia Brasileira?
Inscreva-se em nossa newsletter e receba análises semanais sobre mercado de trabalho, indicadores econômicos e seus impactos práticos na vida financeira das famílias brasileiras.
Perspectivas e Desafios Futuros
Projeções indicam que taxa de desemprego deve permanecer em patamares reduzidos ao longo de 2025 e 2026, potencialmente caindo ainda mais conforme destacam analistas da 4intelligence e XP Investimentos. Entretanto, manutenção de baixo desemprego não garante automaticamente melhoria substantiva na qualidade de vida dos trabalhadores se desafios estruturais não forem endereçados.
A informalidade, embora em trajetória descendente, permanecerá elevada enquanto custos de formalização forem percebidos como excessivos por pequenos empregadores e trabalhadores autônomos. Reformas que simplifiquem tributação e obrigações acessórias para pequenos negócios poderiam acelerar formalização, expandindo cobertura de proteção social.
Necessidade de Reindustrialização
Economista
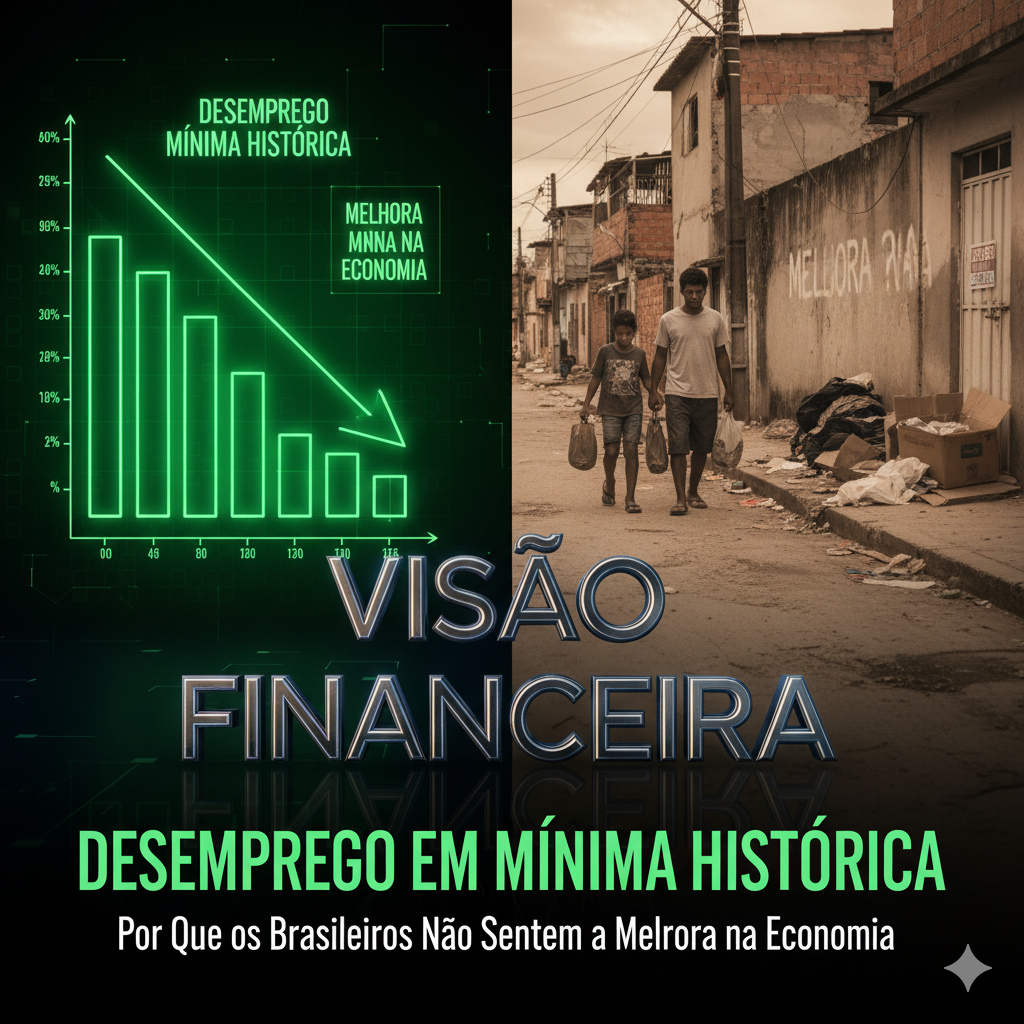





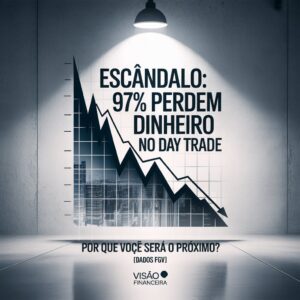
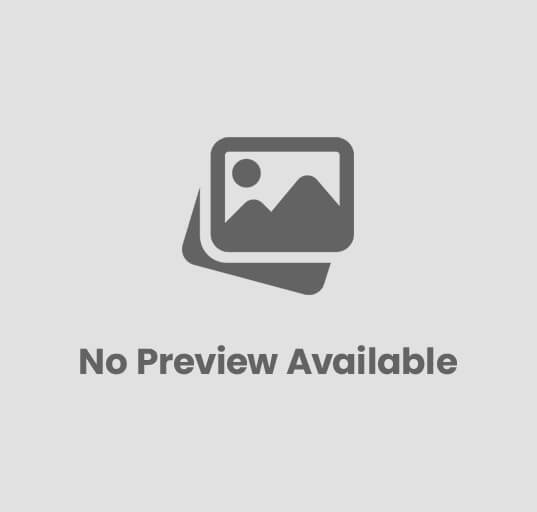
Publicar comentário